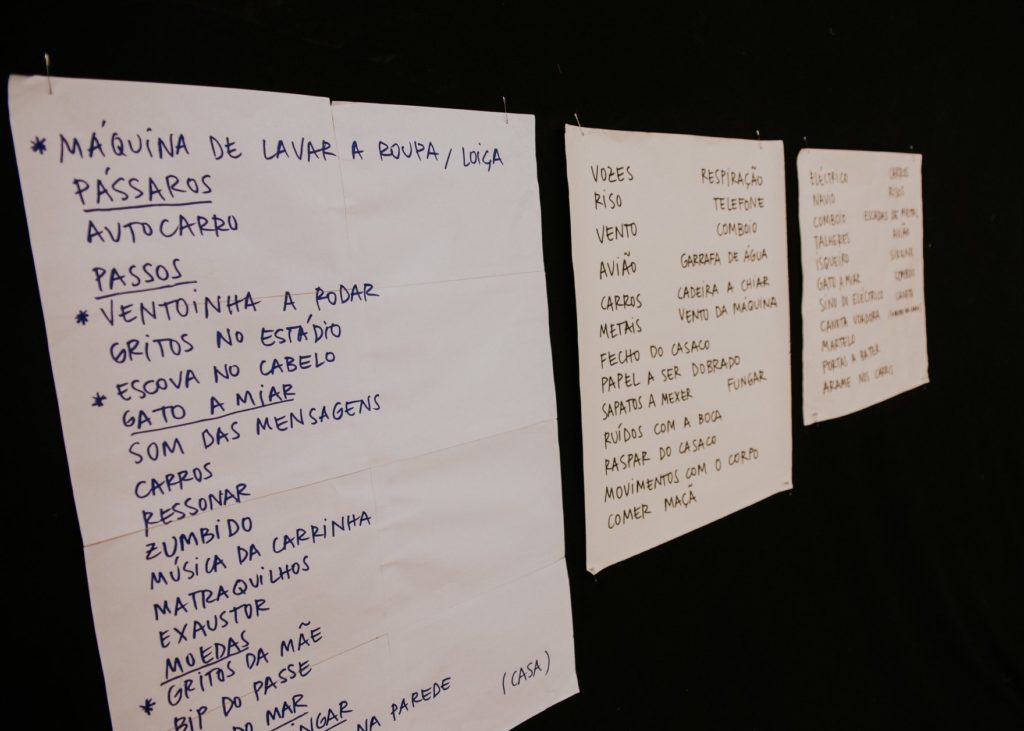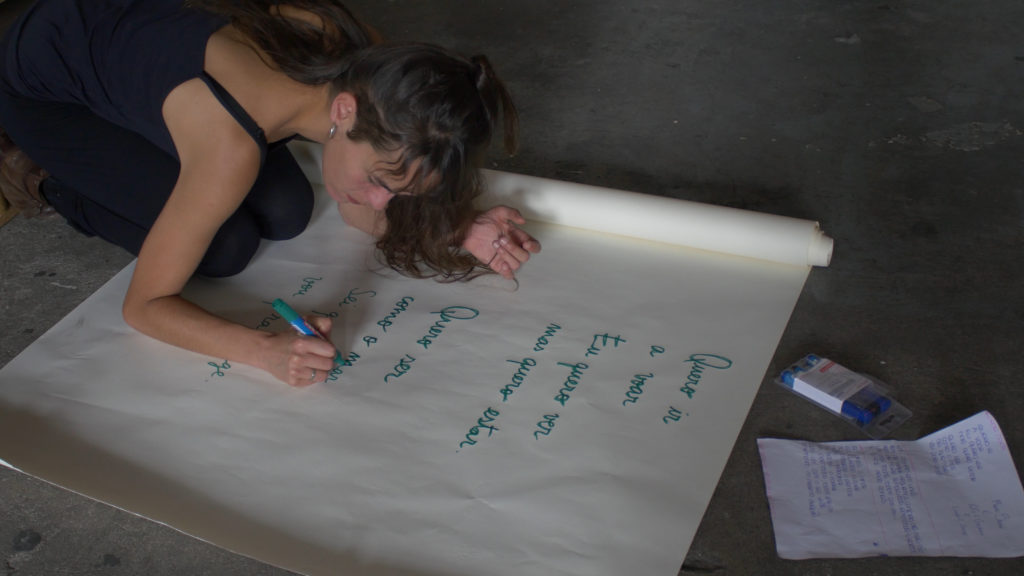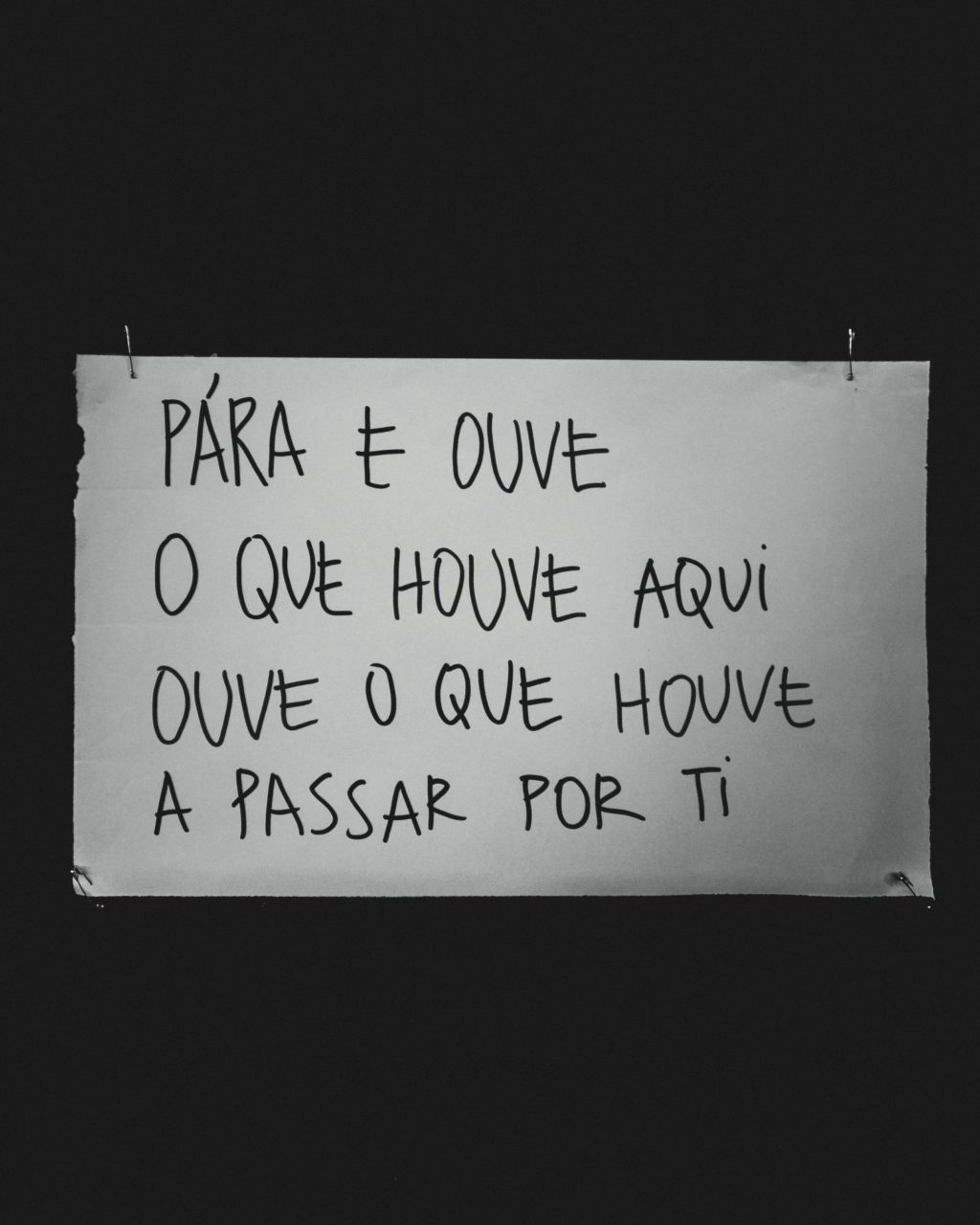Apresento-vos o Bruno Leite, 40 anos, Educador de Infância. Foi a ele que, desde os primeiros dias de confinamento em Março, recorri para distraír o meu filho de 4 anos. Eu e outras muitas centenas de pessoas, porque o Bruno é assim como que uma referência neste mundo complexo, o de educar crianças. Pelo meio ainda fez uma formação sobre “trabalho por projecto em jardim de infância” e participou num debate da RTP sobre “valores em discussão” onde representou o lado da Educação. Ele é um dos 1% que trabalham nesta área. Claro que quis perceber como é que isto aconteceu.
– Quando é que percebeste que tinhas um dom para educar crianças?
Um dom é muito bom (muitos risos). Sabes, era suposto ser programador informático, era para isso que andava a estudar mas odiava, apesar do meu pai dizer que era o futuro e ia dar dinheiro (tinha razão). Desde miúdo sempre fiz campos de férias, primeiro como participante e depois quando fiquei mais “velhinho” como monitor… acho que foi aí que percebi que gostava era de trabalhar na área social, com pessoas! Mas os adolescentes dão muito trabalho, e eu queria trabalhar para crianças que ainda não fossem corrompidas pela sociedade, trabalhar com pessoas puras. Deixei de estudar no 11º ano, assustei os meus pais, comecei a trabalhar no LUX e decidi que iria tirar um curso técnico profissional de auxiliar de ação educativa, para ter contacto com a realidade e ver se era mesmo aquilo que queria.
Foi durante esse curso que me apercebi do “dom”. Quando acabei o curso, fiquei mais um ano sem estudar, continuava a trabalhar no Lux para pagar as contas e depois a universidade.
– Sabes quantos homens existem na profissão VS mulheres? Ou isso nunca te ocorreu sequer?
O número em si não sei, mas sei que somos à volta de 1%, dados oficiais do ME de 2017. Sabendo que existem cerca de 14.000 educadores de infância em Portugal, seremos à volta de 140! Mas desses há um grande número a não exercer… só eu, nessas condições, “conheço” uns 10!
– Alguma vez sentiste descriminação por seres um homem entre mulheres?
Vamos por partes. Dos, que é mais Das, colegas nunca senti. As famílias também nunca me fizeram sentir isso, não quer dizer que alguma já não tivessem pensado…
Faz uns 2/3 anos, num artigo de opinião do Expresso, o Henrique Raposo escrevia que se existisse um educador homem no colégio das filhas ele já mais as deixaria lá ficar… entre outras barbaridade afirmava que a probabilidade era elevada de sermos predadores sexuais!
Na altura escrevi uma carta aberta ao mesmo, como não tinha redes sociais resolvi pedir aos meus amigos para a divulgarem. Acabou por ter um impacto muito maior do que eu pensei, sei que a mesma chegou-lhe às mãos e que existiram algumas vozes dentro da redação contra a barbaridade que ele tinha escrito. Na semana seguinte publicou um mea-culpa… mas sendo um mea-culpa com imensas justificações e estatísticas a justificar o que tinha escrito, não deixou de ser um mea-culpa!
– Que valores e ensinamentos queres passar aos teus “alunos”?
Para além de todas as componentes de desenvolvimento inerentes a crianças dos 6 meses aos 6 anos, o que digo sempre aos pais com quem trabalho e aos educadores que vão às minhas formações, é que quero que as crianças chegam ao final deste percurso e saiam daqui a pensar plural, a questionar o mundo que os rodeia, a não aceitar como respostas o “sim porque sim”, o “não porque não”, ou o famoso “porque eu mando”.
O trabalho de qualquer educador, deve ser a preparação das crianças para a vida!
– O que te dá mais prazer, e menos?
Acho que já te respondi ao que me da mais prazer 🙂 o que me dá mais prazer é saber que estou a trabalhar com seres humanos puros! Que quando são “mauzinhos” é uma maldade pura, que quando são “bonzinhos” também a bondade é pura. O que me dá menos prazer são as imensas burocracias do nosso sistema de educação…mas essa conversa dava pano para mangas…
– Sentes que podes mudar a vida deles?
Tenho a certeza! Freud e Erickson dizem-nos, nas suas teorias do desenvolvimento, que a personalidade do Homem fica marcada por volta dos 5/6 anos, depois vai sendo moldada ou não. Sabemos bem quem, em muitíssimos casos, passa mais tempo útil com as crianças… Mas isto não deve ser encarado pelos educadores como um privilégio. Ou melhor, não deve ser encarado SÓ como um privilégio. Na minha opinião, trata-se de uma tremenda responsabilidade que tem de ser partilhada com os pais. O nosso trabalho não é educar, isso é trabalho de pais. O nosso trabalho deve ser, em parceria com as famílias, o de ajudar nessa tarefa, extraordinária e desafiante, que é educar.
– Como tens ocupado a tua quarentena (para além do trabalho intenso que tens a partilhar as melhores práticas para miúdos, no facebook?)
Esta quarentena trouxe a todos grandes desafios e irá certamente mudar e muito tudo o que era a nossa perceção do mundo. Do mundo profissional, social, e pessoal.
Durante este período mantive diariamente o contacto com as famílias de todas as crianças da “minha sala”. Mais que atividades que sugiro, penso que este é um tempo que pede aos profissionais de educação que sejamos ainda mais, humanos, afetuosos, presentes. Mais que atividades devemos partilhar sorrisos, beijos e amor, mesmo através de um ecrã. Depois tenho aproveitado para atualizar a minha leitura, que não é coisa pouca. Também para preparar formações que faço, online. E ainda colaboro num projeto, o qual a minha mulher está à frente, através do GeraGera, de apoio ao estudo para os alunos do 5º ao 7º.
Mais recentemente fui desafiado por um amigo para fazer parte num novo projeto, que entre outras ações, pretende criar kits de atividades para crianças dos 6 meses aos 6 anos e distribuir por famílias mais carenciadas de norte a sul do país. Vamos ver se as empresas dizem presente. E por último, mas não menos importante, tenho aproveitado para comer… já devo ter engordado uns 3kg (muitos risos).
Nota: Se estão a sonhar com que o Bruno seja o educador de infância do vosso filho/a, metam-se na fila de espera do Colégio Rik & Rok em Alfragide e até lá inspirem-se nas partilhas que vai fazendo no seu facebook.
Ou espreitem as actividades que vai desenvolvendo na sua associação na Parede a Gera Gera – porque as férias estão aí e o Bruno já tem as melhores soluções para entreter e educar os vossos filhos.